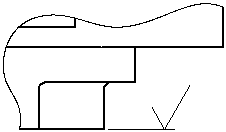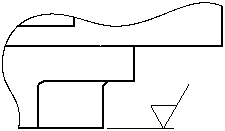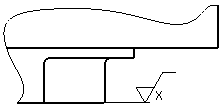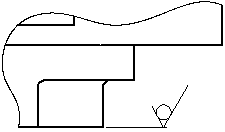Tipos de Calculos para precisão em Medidas
A medida direta de uma grandeza é o resultado da leitura de sua magnitude mediante o uso de um instrumento de medida como, por exemplo, a medida de um comprimento com uma régua graduada, a de uma corrente elétrica com um amperímetro, a de uma massa com uma balança ou de um intervalo de tempo com um cronômetro.
Uma medida indireta é a que resulta da aplicação de uma relação matemática que vincula a grandeza a ser medida com outras diretamente mensuráveis. Como exemplo, podemos citar a medida da velocidade média de um carro que percorreu um espaço Δx em um intervalo de tempo Δt:
V = Δx
Δt
Noções Sobre Teoria de Erros
O ato de medir é, em essência, um ato de comparar, e essa comparação envolve erros de diversas origens (dos instrumentos, do operador, do processo de medida etc.). Pretende-se aqui estudar esses erros e suas conseqüências, de modo a expressar os resultados de dados experimentais em termos que sejam compreensíveis a outras pessoas.
Quando se pretende medir o valor de uma grandeza, pode-se realizar apenas uma ou várias medidas repetidas, dependendo das condições experimentais particulares ou ainda da postura adotada frente ao experimento. Em cada caso, deve-se extrair do processo de medida um valor adotado como melhor na representação da grandeza e ainda um limite de erro dentro do qual deve estar compreendido o valor real.
Erros e Desvios
Algumas grandezas possuem seus valores reais conhecidos e outras não. Quando conhecemos o valor real de uma grandeza e experimentalmente encontramos um resultado diferente, dizemos que o valor obtido está afetado de um erro.
ERRO é a diferença entre um valor obtido ao se medir uma
grandeza e o valor real ou correto da mesma.
Matematicamente: erro = valor medido − valor real
Entretanto o valor real ou exato da maioria das grandezas físicas nem sempre é conhecido. Quando afirmamos que o valor da carga do elétron é 1,60217738 x 10-19 C, este é, na verdade, o valor mais provável desta grandeza, determinado através de experimentos com incerteza de 0,30 partes por milhão. Neste caso, ao efetuarmos uma medida desta grandeza e compararmos com este valor, falamos em desvios e não erros.
DESVIO é a diferença entre um valor obtido ao se medir uma grandeza
e um valor adotado que mais se aproxima do valor real.
Na prática se trabalha na maioria das vezes com desvios e não erros.
– Classificação de Erros
Por mais cuidadosa que seja uma medição e por mais preciso que seja o instrumento, não é possível realizar uma medida direta perfeita. Ou seja, sempre existe uma incerteza ao se comparar uma quantidade de uma dada grandeza física com sua unidade.
Segundo sua natureza, os erros são geralmente classificados em três categorias: grosseiros, sistemáticos e aleatórios ou acidentais.
– Erros Grosseiros:
Ocorrem devido à falta de prática (imperícia) ou distração do operador. Como exemplos, podemos citar a escolha errada de escalas, erros de cálculo, etc. Devem ser evitados pela repetição cuidadosa das medições.
– Erros Sistemáticos:
Os erros sistemáticos são causados por fontes identificáveis, e, em princípio, podem ser eliminados ou compensados.
Estes fazem com que as medidas feitas estejam consistentemente acima ou abaixo do valor real, prejudicando a exatidão da medida. Erros sistemáticos podem ser devidos a vários fatores, tais como:
• Ao instrumento que foi utilizado;
Ex: intervalos de tempo feitos com um relógio que atrasa;
• Ao método de observação utilizado;
Ex: medir o instante da ocorrência de um relâmpago pelo ruído do trovão associado;
• A efeitos ambientais;
Ex: a medida do comprimento de uma barra de metal, que pode depender da temperatura ambiente;
• As simplificações do modelo teórico utilizado;
Ex: não incluir o efeito da resistência do ar numa medida da aceleração da gravidade baseada na medida do tempo de queda de um objeto a partir de uma dada altura.
– Erros Aleatórios ou Acidentais:
São devidos a causas diversas e incoerentes, bem como a causas temporais que variam durante observações sucessivas e que escapam a uma análise em função de sua imprevisibilidade. Podem ter várias origens, entre elas:
• Os instrumentos de medida;
• Pequenas variações das condições ambientais (pressão, temperatura, umidade, fontes de ruídos, etc.);
• Fatores relacionados com o próprio observador sujeitos à flutuações, em particular a visão e a audição.
De um modo simples podemos dizer que uma medida exata é aquela para qual os erros sistemáticos são nulos ou desprezíveis. Por outro lado, uma medida precisa é aquela para qual os erros acidentais são pequenos.
O erro é inerente ao próprio processo de medida, isto é, nunca será completamente eliminado. Poderá ser minimizado procurando-se eliminar o máximo possível as fontes de erros acima citadas. Portanto, ao realizar medidas, é necessário avaliar quantitativamente os erros cometidos.
– Desvio Médio − Valor Médio
Quando um mesmo operador efetua uma série de medidas de uma grandeza, utilizando um mesmo instrumento, as medidas obtidas terão valores que poderão não coincidir na maioria das vezes, isso devido aos erros experimentais inerentes a qualquer processo de medida.
Suponha que um experimentador realize 10 vezes a medida do comprimento L de uma barra. Essas medidas foram realizadas com uma régua cuja menor divisão era 1 cm, de modo que os milímetros foram avaliados (é costume fazer estimativas com aproximações até décimos da menor divisão da escala do instrumento).
Em qualquer das medidas efetuadas encontraram-se, como comprimento da barra, 5 cm completos mais uma fração avaliada da menor divisão, de modo que as flutuações, neste caso, residem nas diferentes avaliações da menor divisão. A tabela ao lado mostra os valores obtidos nas dez medidas realizadas.
Calculando-se a média aritmética das medidas efetuadas tem-se:
que é o valor mais provável para o comprimento da barra.
O valor médio é mais preciso e exato quanto
maior for o número N de medidas.
Define-se o desvio de uma medida pela diferença entre o valor medido (Ln ) e o valor médio (

).
O desvio de cada medida, no caso do exemplo, está indicado na tabela. Desse conjunto deve-se extrair a incerteza que afeta o valor médio. Considera-se, para esse fim, a média aritmética dos valores absolutos dos desvios denominada desvio médio (

):
Esse desvio significa que o erro que se comete ao adotar o valor médio (L= 5,7 cm) é de 0,1 cm. Em outras palavras, o valor real deve estar entre 5,6 e 5,8 cm. Dessa maneira, o comprimento da barra pode ser expresso como:
–Desvio Avaliado ou Incerteza
Se o experimentador realiza apenas uma medida da grandeza, o valor medido evidentemente será o valor adotado, já que não se tem um conjunto de dados para ser analisado, como no caso anterior. Aqui, também, o valor adotado representa a grandeza dentro de certo grau de confiança.
A incerteza de uma única medida, em geral, depende de vários fatores como: o instrumento utilizado, as condições em que a medida se realiza, o método utilizado na medida, a habilidade do experimentador, a própria avaliação do último algarismo (fração avaliada da menor divisão da escala do instrumento) etc...
É costume tomar a incerteza de uma medida como sendo a metade
da menor divisão da escala do instrumento utilizado.
– Desvio Relativo
O desvio relativo é igual ao quociente entre a incerteza e o valor adotado e é, frequentemente expresso em termos percentuais.
a) Caso uma medida única: Desvio relativo = desvio avaliado
valor medido
b) Caso uma série de medidas: : Desvio relativo = desvio médio
valor médio
O desvio relativo percentual é obtido, multiplicando-se o desvio relativo por 100%. O desvio relativo nos dá, de uma certa forma, uma informação a mais acerca da qualidade do processo de medida e nos permite decidir, entre duas medidas, qual a melhor. Isto é, quanto menor o desvio relativo, maior a precisão da medida.
– Propagação de Erros e Medidas Indiretas
A medida de uma grandeza é dita indireta quando sua magnitude e seu erro são calculados a partir de uma operação matemática entre outras grandezas medidas diretamente.
Suponhamos que a grandeza Z = z±Δz a ser determinada esteja relacionada com outras duas ou mais, através da relação:
Z = f (x±Δx, y±Δy,...)
onde f é uma relação conhecida de x±Δx, y±Δ y,...
Um método muito utilizado e que nos dá o valor de Δz imediatamente em termos de Δx, Δy,..., é baseado na aplicação de resultados do cálculo diferencial.
A diferença total de Z nos dará:
As diferenciais na equação acima poderão ser substituídas pelos erros Δz, Δx, Δy,...,sempre que os tais erros forem pequenos:
Como os erros Δx, Δy,..., são precedidos do sinal ±, procurar-se-áobter o maior valor de Δz, que é dado por:
A partir da equação acima, podemos obter as seguintes regras de propagação de erros onde c e n são constantes quaisquer e e é o número neperiano (e = 2,718...)
Adição: z ± Δz =(x ± Δx)+ ( y ± Δy) = (x + y) ± (Δx + Δy)
Subtração: z ± Δz =(x ± Δx) – ( y ± Δy) = (x - y) ± (Δx + Δy)
Multiplicação: z ± Δz =(x ± Δx) . ( y ± Δy) = (x . y) ± (xΔx + yΔy)
Multiplicação por uma constante: z ± Δz = c.(x ± Δx) = cx ± cΔx)
Potência: z ± Δz = (x ± Δx)n = xn ± nxn-1. Δx
Divisão: z ± Δz = x ± Δx = x ± 1 (xΔy+ yΔx) y ± Δy y y2
Cosseno: z ± Δz =cos (x ± Δx) = cos x ± sen x . Δx
Seno:z ± Δz =sen (x ± Δx) = sen x ± cos x . Δx
Logarítimo: z ± Δz =logc (x ± Δx) = logc x ± logc I e . Δx
X
Os termos posteriores ao sinal ± são tomados em valor absoluto, ou seja, todos os termos pertencentes ao erro são positivos e se somam em todos os casos, erros nunca se subtraem. Qualquer p=outra regra de propagação de erro poderá ser obtida pelo mesmo método, bastando conhecer as derivadas parciais das funções.